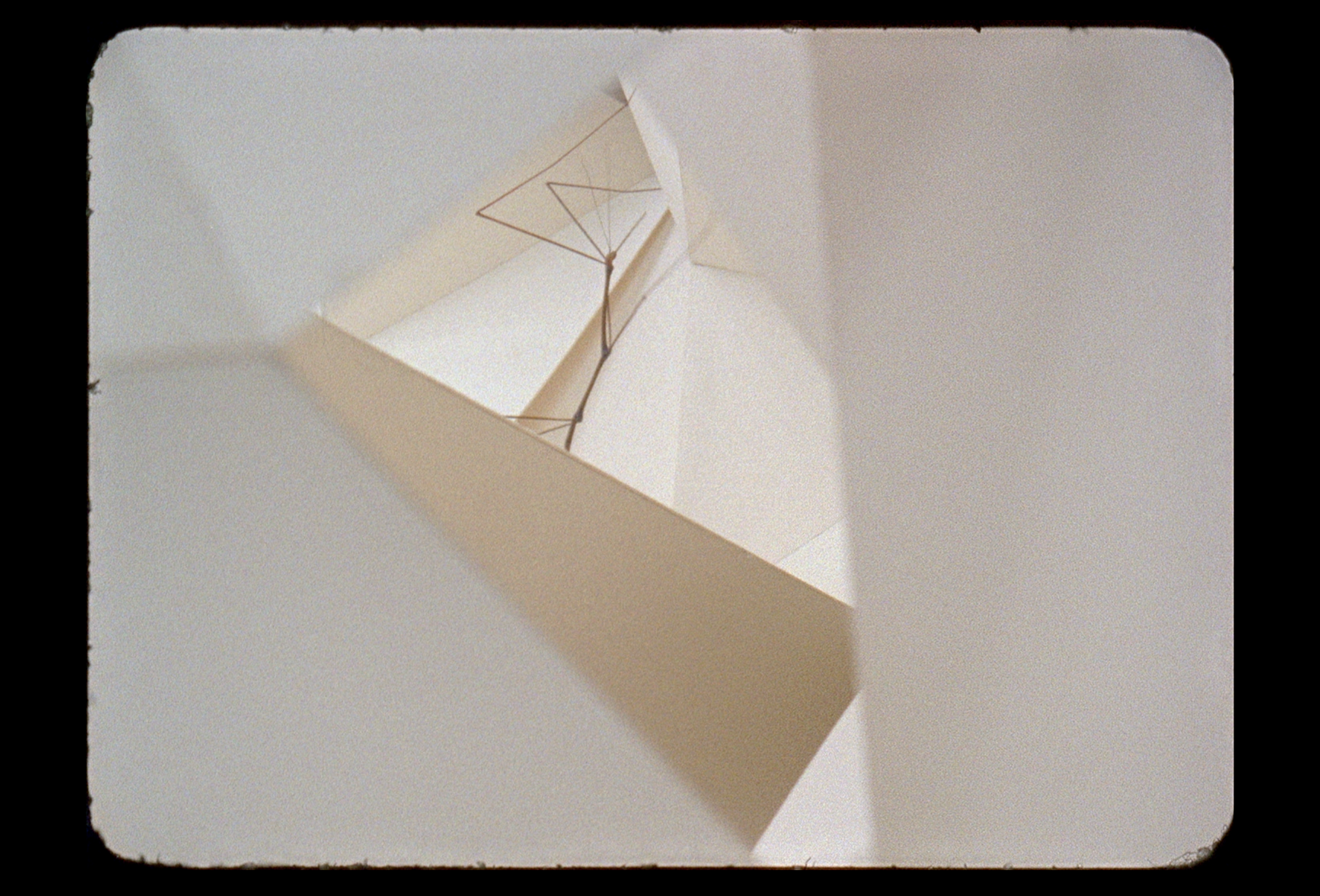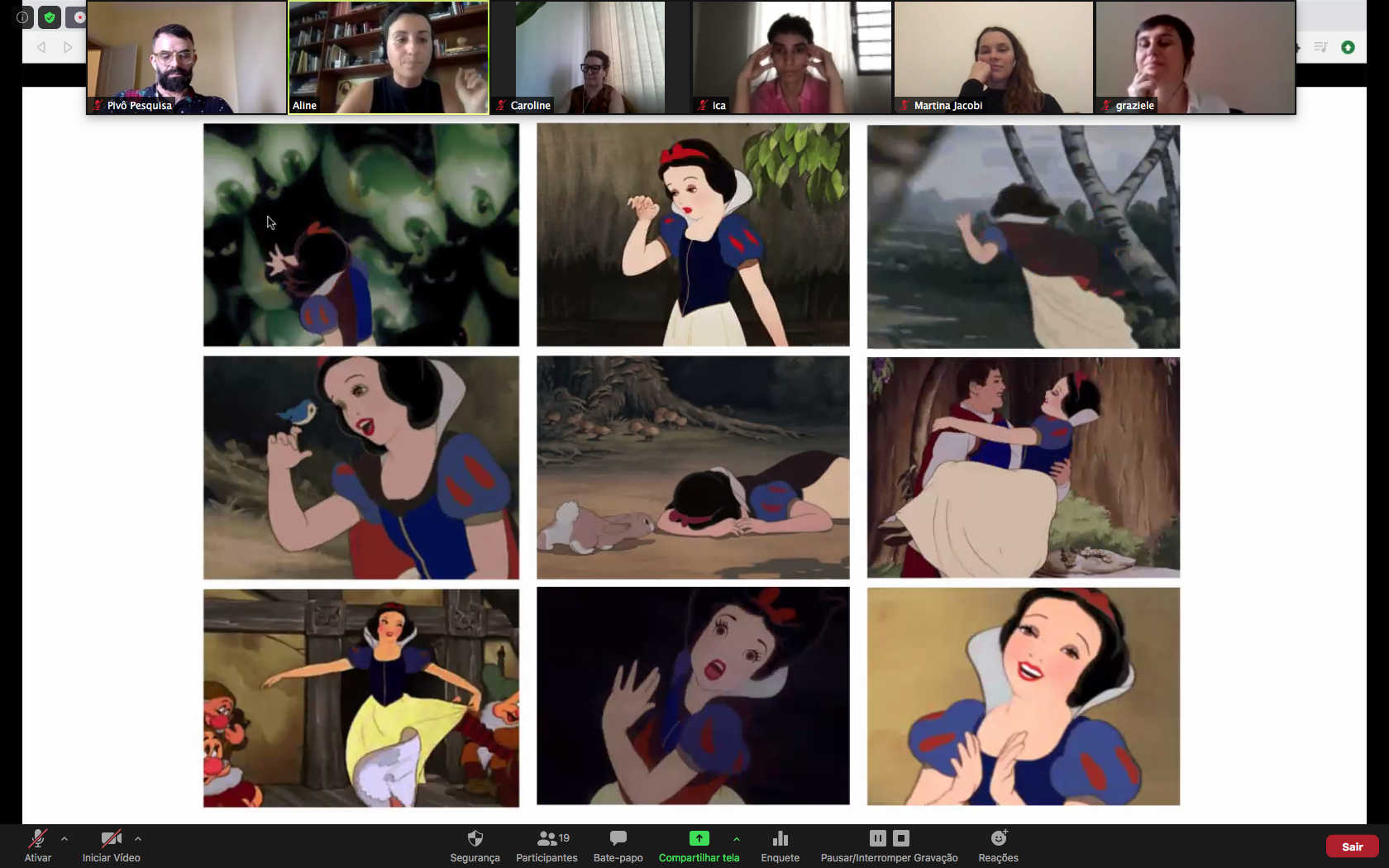Um diálogo entre artistas. A entrevista a seguir é a transcrição de uma vídeo-chamada entre Luiz Roque e Agrippina R. Manhattan. O disparador da conversa foi a individual que Roque realizou no Pivô, em 2020. República apresentou um apanhado dos últimos dez anos da produção do artista, além de um filme inédito, comissionado especialmente para o projeto em uma parceria entre o Pivô e o CAC Passerelle (Brest, França). No filme, que emprestou seu título à exposição, o artista emprega a fantasia e o documental para tratar da praça de mesmo nome, localizada na região central de São Paulo – onde ele vive e onde está localizado o Pivô – e da comunidade LGBTQ+ que se formou em seu perímetro ao longo dos anos.
Agrippina R. Manhattan: Luiz, queria que você falasse um pouco da sua trajetória, especialmente das experiências pedagógicas que tiveram importância no seu trabalho e na forma como você entende sua atuação como artista.
Luiz Roque: Entrei na universidade em 1999, na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, curso de Relações Públicas, e tive a sorte de encontrar um grupo de pessoas que se interessava por cinema. Começamos a fazer uns filmes, filmar em Super 8, algo que faço até hoje inclusive. Logo entendi que comunicação não era pra mim e comecei a trabalhar mais profissionalmente com cinema e depois pedi transferência para o curso de Artes Visuais da UFRGS.
Como Artes Visuais não foi meu primeiro curso, acredito que consegui aproveitar melhor. Acho interessante essa pergunta sobre minhas experiências pedagógicas, pois optei por fazer minha especialização em História, Teoria e Crítica da Arte. Passei pelos ateliês, mas nada me chamava muito a atenção, então decidi entrar na linha de teoria e pensei ‘’vou ler algumas coisas”. Eu estava um pouquinho mais maduro e achei que seria interessante estudar alguma coisa.
E estudei. Minha orientadora, Ana Albani de Carvalho, ministrava a cadeira Metodologia de Pesquisa em Arte, que foi bem importante, e minha dissertação se chamou Ficções em Videoarte que, como toda dissertação de graduação costuma ser, era um trabalho bem ambicioso, um desejo de abarcar o mundo. Minha conclusão foi que os artistas estavam trabalhando com ficção pois havia um apelo interessante… trabalhar com ficção, montar uma narrativa, tinha uma potência de sedução do público muito forte, principalmente considerando o museu como forma de comunicação, algo que minha orientadora me ajudou muito a entender.
Pensar um espaço expositivo como meio de comunicação. O museu e a galeria já são lugares cheios de coisas, o espectador não é obrigado a ficar em lugar nenhum, ao contrário da sala de cinema. Comecei a entender então que eu queria fazer filmes que fossem sedutores de certa maneira.
AM: Gosto quando você fala sobre o museu como forma de comunicação, pois queria que comentasse um pouco sobre a sua individual TELEVISÃO, no Museu de Arte Contemporânea de Niterói, em 2018-2019. Foi quando nos conhecemos, eu trabalhava como arte educadora na instituição e tive a experiência de conviver bastante com a mostra. O que mais me seduziu, e acredito que também à boa parte do público, foi como essa ficção que você constrói e a maneira como constrói os personagens humanos e não-humanos carrega uma dimensão de cinema, mas é montada nesse tempo outro da videoarte. Fale um pouco sobre isso.
LR: Sim, esse tempo não é o mesmo tempo do cinema. Especificamente no espaço do MAC-Niterói, a exposição aconteceu numa área circular, as pessoas poderiam entrar tanto pela esquerda quanto pela direita e de qualquer maneira elas sempre acabariam percorrendo um círculo. Lembro de conversar com os curadores, Pablo León de La Barra e Raphael Fonseca, sobre os filmes também apresentarem essa característica do looping. Os filmes são curtos. Eles são circulares. O espaço fica circular.
Todo meu trabalho opera com essas narrativas breves, digamos assim. Gosto de pensar que qualquer pessoa, entrando a qualquer momento do trabalho, vai ter de imediato uma conexão qualquer, ou pelo menos essa é minha pretensão, que eu consiga de alguma maneira convidá-la e ainda convencê-la a ver mais de uma vez. Talvez por isso eu coloque tantas coisas nos filmes. Você vê um monte de índices jogados dentro, porque estou meio assumindo que as pessoas vão assistir mais de uma vez.

AM: Gosto dessa possibilidade que a videoarte traz de apostar na autonomia de quem experimenta o trabalho. A perspectiva de quem entra aos 2 minutos num vídeo de 7 minutos marca uma chegada. Cada experiência se inicia a partir do momento que ela começa para quem chega. Trabalhando como arte educadora, a parte mais maçante e por vezes mais interessante é esse convívio diário com um trabalho. Acredito que é nesse lugar que o trabalho do artista acontece e consegue fragmentar o tempo num espaço de desejo, de aprendizado. Creio que suas ficções operam por um caminho similar. Quando somos expostas à maneira burocrática através da qual instituições como museus, galerias e afins tratam e segregam artistas e trabalhadores ou impõem uma lógica cisgênera e racista, nos vemos confrontadas por esse mundo que imaginamos e a realidade, por assim dizer. Como podemos, como artistas, tirar proveito dessas fricções?
LR: O museu é um meio. Então como vou lidar com esse lugar? O que mais me incomodava no cinema era essa sensação que eu tinha de uma espécie de anulação do corpo. Meu corpo fica numa cadeira, numa sala escura. Então passei a me interessar em fazer trabalhos audiovisuais, ou não, em que eu considerasse o trajeto de um público que se move constantemente. No caso dos filmes, por exemplo, gosto de lidar com diferentes tipos e escalas de projeção, aparelhos de TV, monitores, mídias diferentes. Eu sempre penso em sedução quando mostro um trabalho.
Sobre essa fricção entre artista e meio que você falou, é inevitável que haja certo confronto. Museus são instituições e instituições têm medos.
Lembro que quando estávamos no processo da exposição no MAC-Niterói, houve um momento de paranoia em relação ao que certos conteúdos poderiam causar no público do museu. O ano era 2018 e Niterói parecia ser um reduto bolsonarista. Para mim era muito importante manter o desenho original que a gente tinha pensado e após algumas, várias conversas, foi o que aconteceu.
AM: Sobre essas experimentações com formatos e geometrias de projeção, gostaria que falasse de sua individual no Pivô, que vi no ano passado. Foi quando começamos a conversa que virou essa entrevista, principalmente discutindo essa janela que a palavra “república” abre. Tanto no que se refere à localização do Pivô e à Praça da República e sua história para os movimentos de gênero dissidentes de São Paulo, mas também sobre essa abstração política que os gregos inventaram. A geometria da praça se repete na tela de projeção circular, um cruzamento entre a trava e a bixa, e a ambiguidade da palavra se traduz em forma na exposição. Como se dá para você essa relação entre a forma, a matéria e a estratégia de sedução?
LR: Gosto e tento no meu trabalho que o assunto vire linguagem. Acho interessante que você falou sobre geometrias pois existem essas “geometrias da arte”, digamos assim. O retângulo, por exemplo, quando traduzido para o cinema se transforma na tela de projeção 16×9. Então me vem essa ideia… se estou lidando com outros protagonismos, sempre faz muito sentido também mexer um pouco com o lugar hegemônico dessa geometria. República (2020) é um filme redondo, fiz um outro filme, S (2017), que é quadrado. Não se trata só do que está acontecendo dentro da tela, se meu desejo é trazer outras narrativas, acredito que isso também passe pela linguagem, pelo formato, por essa geometria.
E sobre a Praça da República, existe essa ideia da praça como um quadrado mesmo. Não havia parado pra pensar até nossa conversa que República também remete a uma geometria…

AM: Eu fiz história da arte né, gata, eu sei o que eu tô perguntando (risos).
LR: Adoro história da arte!
AM: Acho muito importante se atentar para essa questão dos protagonismos. Nossa imagem não é mais importante que nossos corpos ou nossas vidas, nesse sentido é fundamental essa emancipação que nos coloca no lugar de autoras, especialmente para corpos subalternizados. Como você comentou, é preciso pensar para além do assunto e como pensar esse protagonismo num filme como República, que mostra corpos trans, travestis e/ou racializados? Você constrói relações com seus personagens para além de um vínculo de imagem? Quais são as condições de trabalho dessas pessoas? Esses protagonistas estão também em outros lugares da produção do trabalho, para além de sua própria imagem?
LR: Na faculdade de comunicação, tinha um grupo de amigos que entrou comigo, dentre eles Gustavo Jahn e a Melissa Dullius do duo DISTRUKTUR, que era muito cinéfilo. Em um final de semana, assistíamos filmes da nouvelle vague, no outro, cinema novo brasileiro. Sempre achei aquilo muito interessante, mas nunca entendia onde eu estava. Muitas vezes acho que mentia, “adorei esse filme”, mas não conseguia nem acessar a parte inventiva e experimental desse chamado cinema moderno. Na nouvelle vague tinha os boys fumando cigarro, usando óculos, falando sem parar e as mulheres lindas e mudas. Bixa? Nem pensar.
Em Porto Alegre tinha o Mix Brasil, festival da diversidade sexual, mas lembro de pensar que o festival poderia se chamar GLS Brasil, pois basicamente só havia trabalhos sobre homens gays brancos cisgêneros europeus. Achava aquilo tudo meio esquisito. Apesar do fato de eu continuar sendo essa bixa branca e cis.
A partir do momento que comecei a me interessar por um “cinema figurativo”, após meus primeiros anos de produção voltada mais pra certa abstração da imagem, os personagens que eu queria ver não eram aqueles que eu encontrei nos filmes do cinema. Minhas relações de amizade começaram a aparecer no trabalho, quando fiz Ano Branco (2013) eu estava próximo da Glamour Garcia e do Luezley Sol (Lou), que me fez ler um texto de Paul Preciado, na época Beatriz. Eu lembro que a Glamour estava passando um perrengue com o sistema de saúde e tudo isso está no filme.
Britney Federlini, maquiadora, me disse uma vez quando estávamos na preparação de Ano Branco: “você sabe que se eu quebrar meu pé e for para o pronto socorro a primeira coisa que vão me pedir é um teste de HIV?” Existe uma cena em que a personagem de Glamour encara o robô que representa o Estado e vemos a fitinha símbolo do HIV no cenário ao fundo. Então gosto de pensar que de alguma forma o trabalho é construído junto. Quando as pessoas que atuam nos filmes veem o resultado final, elas têm que amar. Têm que se surpreender, têm que ficar felizes, essa é a melhor coisa.

AM: Você falou sobre representação, acho sempre interessante para nós que somos artistas e trabalhamos com imagens pensar nesse abismo entre representação e representatividade. Algo que acontece no seu trabalho são essas operações imagéticas que se constroem com a imagem das atrizes, que por sua vez lidam com essa estigmatização que a própria imagem constrói. Você se coloca nesse lugar da bixa, falamos sobre essa união LGBT que só é possível no Brasil com todas suas contradições pela violência que existe contra corpos de gêneros dissidentes. Isso é o que há de poderoso na colaboração, o lugar onde existe uma possibilidade de luta em conjunto, ainda que não isente a própria colaboração de ser uma relação de violência. Como seu trabalho circula pelo mundo, esses lugares são recolocados à medida que são reterritorializados. Em lugares tão elitistas e violentos, como são os arredores do MAC-Niterói e do Pivô, por exemplo, nossa proximidade se dá em uma necessidade de sobrevivência. Aqui somos duas brancas conversando e, em outro lugar, sou uma travesti e você uma bixa. Como esses deslocamentos contribuem para as suas ficções?
LR: Lembro de ter ficado muito contente quando a exposição do MAC-Niterói abriu. Glamour estava estreando uma novela na Globo em horário nobre e foi bonito, por vários motivos: o próprio nome da exposição, TELEVISÃO, a proximidade de Niterói com o Rio, sede da emissora, até ver uma amiga atriz que acompanho chegar nesse lugar, o “estrelato”. Quero acreditar que é mais sobre estar junto com as pessoas. Meus filmes às vezes lidam com essa ideia de ser famoso, ou melhor, da fama em mundos LGBTs, que são frente e fundo das cenas porque só existem esses mundos. Não existe teste de elenco para as situações que imagino quando estou pensando em um filme. Danna Lisboa, Marcinha do Corinto, Natasha Princess, artistas performáticas que estrelam alguns dos trabalhos, possuem fandoms com parte consistente formado por bixas. Atuam, cantam, compõem, dançam, mirando, também, a indústria do entretenimento. Isso me interessa muito.
AM: Qual a diferença entre ser artista e ser da indústria do entretenimento?
LR: Voltamos à questão que para mim o museu é minha televisão. Então eu quero fazer entretenimento também.
AM: Ainda falando dos protagonismos, uma coisa que me diverte e aparece em ambas as exposições que comentamos é como todos os filmes são construídos acerca de uma figura central, humana ou não-humana. Em alguns filmes como Zero (2019) ou Modern (2014), os protagonistas, respectivamente um cachorro e uma escultura, são difíceis de gerar uma identificação ou de se criar um espelhamento com o público, digamos assim. Fala um pouco disso.
LR: Gosto muito de ficção científica e de filmes de fantasia. Tem uma entrevista com o ator Ian McKellen, o X-Men Magneto, que ele fala que se você trocar o mutante por uma pessoa LGBT, as questões seguem muito parecidas. Assisti a uma fala da Jota Mombaça em que ela abria com uma citação da personagem Mística: “Só porque não há uma guerra, não significa que exista a paz”. Isso nos aproxima dos mutantes e também nos aproxima dos animais, ou das coisas que não são necessariamente humanas.
Em Zero e em outros filmes em que há a presença animal, como em Ancestral (2016), que mostra um tamanduá-bandeira, minha intenção é sentir o menos possível a mão humana, quase como se o próprio filme fosse gravado pelo animal ou acontecido sozinho. Não quero ressaltar ideias de submissão e de dominação de humanos sobre os animais. Não as quero de maneira alguma, eu sou de Sagitário, metade humano, metade bicho.

AM: No seu trabalho fica muito evidente esse jogo de sedução da imagem. E conhecendo em algum nível o mundo da arte, acho que fica bem implicado esse limiar entre ser um objeto de desejo e ser um objeto de ódio ou simplesmente o fato de ser concebida enquanto objeto. São alguns jogos perigosos em que corpos LGBT estão imersos e, por mais que desejemos repensar esse lugar da submissão, acredito que exista uma realidade que não podemos negar. Por exemplo, pensar sobre como essas violências interferem não apenas em nossas vidas, mas em nosso direito de sonhar. Me refiro à maneira como essa disputa ocupa um lugar central em nossas narrativas, sobrevivências, sonhos, possibilidades de criação. Sinto que jogamos um jogo com as cartas marcadas, então esse gesto é uma aposta em que reconhecemos que o jogo foi feito para perdermos. E mesmo assim insistimos em ser artista num “cistema” que nos controla, nos normatiza, nos domestica, e apostamos em estratégias para poder fazer o que fazemos, adentrando espaços ainda mais normativos do que nós mesmas, como, por exemplo, o museu ou a universidade. Percebemos que se trata das estruturas de controle que esse mecanismo cria e dissemina, para então se introjetar em nossa própria concepção de normatividade. Dentro do cistema da arte, seu trabalho e o meu são jogados no mesmo barco que é o “Queer dos trópicos”, pronto para ser exportado como uma imagem de Brasil que, nos identificando ou não, dizemos que fazemos parte. O que isso diz sobre você? Sobre nós? Qual é o seu papel e o do seu trabalho nessa guerra?
LR: Faço imagens que quero ver. Eu me interesso muito pela ficção científica porque acredito que ela esteja muito próxima do modo como vejo a arte: inventar um mundo. Porque eu não me conformo muito com o documentário da vida. Jogo essas ficções para o mundo e espero que ele responda. Desejo sempre que o mundo em que os filmes acontecem, “melhore”, acho que meu trabalho é otimista nesse sentido. Eu quero ser otimista. O papel da arte nessa guerra é bem amplo, mas creio que seja principalmente o de re-imaginar tudo aquilo que não ainda não foi destruído pelo homem. Existe um ar de derrota desde 2018. Sim, porque muito foi perdido, vidas e sonhos como você bem falou, mas nós vamos ganhar, não tem como andar para trás agora. Acredito muito nisso e é o que eu quero acreditar. Eu sou otimista. E você? Acha que está sendo otimista ou pessimista no seu trabalho?
AM: Acho que não sou eu a que está sendo entrevistada, mas acredito que, como artista, meu desejo seja operar por tudo aquilo que ainda não conseguimos nomear. Para apostar não no caráter escapista da ficção, mas no poder que ela tem de criar, de inventar. Meu trabalho opera mais pela linguagem do que pela imagem e essa encruzilhada entres as duas coisas tem me interessado muito pelo seu potencial pedagógico. Mas novamente, não sou a que estou sendo entrevistada (risos).
Agrippina R. Manhattan é artista, professora e travesti. Nasceu e cresceu em São Gonçalo, e vive e trabalha no Rio de Janeiro. Sua obra é parte de uma profunda preocupação sobre tudo aquilo que restringe a liberdade. A palavra, a norma, a hierarquia, o pensamento. Escolheu seu nome e inventou a si mesma. Pensa escultura como poesia, poesia como escultura e tudo como uma coisa só e parte dela.

 English
English